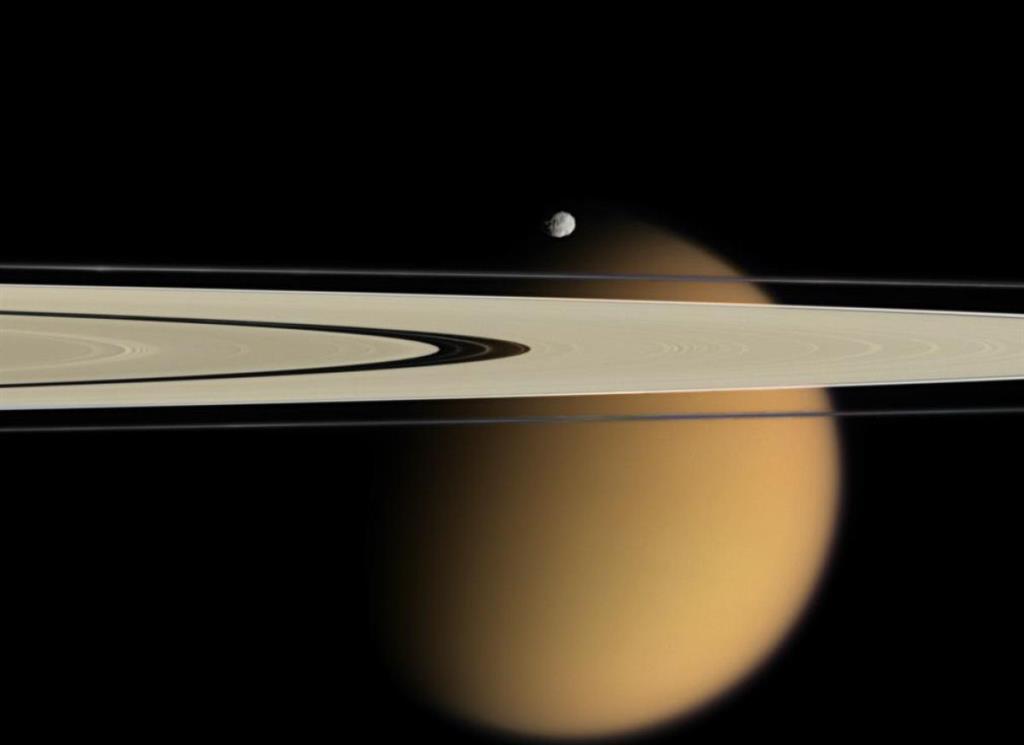Ele já teve belas flores de camurça cor de ferrugem num dos lados das abas e, com certeza, dias de maior esplendor e glória quando o comprei numa sofisticada loja em Washington D.C.
Naquele tempo eu tinha 22 anos e fazia minha primeira reportagem como enviada especial fora do Brasil. Foi quando o chapéu se converteu numa espécie de amuleto para mim.
O chapéu verde parecia atrair tantas viagens quanto o mel atrai abelhas. Se ele tivesse um passaporte, teria todas suas páginas carimbadinhas. Por despertar tão boas memórias, nunca me permiti jogá-lo fora. Com isso, ele se transformou numa espécie de coisa imortal. Roto, meio deformado, e com várias passagens pela máquina de lavar, rodava pela casa como um bichinho de estimação.
Já tinha servido como decoração no meu quarto, ou adereço nos teatrinhos encenados pelas minhas filhas. Foi emprestado algumas vezes, e chegou a viajar para a Alemanha em outra cabeça. Quando deixou de ser visível na casa, continuou sua vida de chapéu itinerante dentro dos armários. Sempre o encontrava em algum canto ou, então, abraçadinho a uma grinalda no alto de uma prateleira. Se fosse um habitante do planeta dos chapéus, hoje ele poderia ser considerado um nobre ancião.
Por isso, agora o seguro em minhas mãos com o mesmo fervor com que Hamlet agarrava o crânio de seu pai e lançava questões como “ser ou não ser”. Em vez disso, minha pergunta diante do meu chapéu de veludo verde é: jogo ou não jogo fora? Faria essa mesma pergunta diante de dezenas de outros objetos que pretendia me desfazer ao me mudar de casa. Essa tarefa insólita fazia parte da proposta da Vida Simples: seguir à risca o livro Jogue Fora 50 Coisas, da americana Gail Blanke, e treinar na prática o desapego. “Nada mais fácil”, pensei. Faço isso em três horas, só de livros que não interessam mais devo ter mais de 50. Fiquei até com medo de não ter o que escrever.
Afinal, com a simpatia que tenho pelo budismo, sabia que a vida é impermanente e que, por isso mesmo, não valia a pena se agarrar a objetos. Já tinha jogado milhares de coisas fora e acreditava que só o essencial tinha permanecido. Poucas coisas e boas era o meu lema. Quanto às questões internas, em relação a crenças e hábitos, pensava estar relativamente bem resolvida. Você conhece a expressão “ledo engano”, não é? Pois esse foi o mais ledo de todos os enganos em que já caí na vida. Jogar objetos fora era apenas a ponta do iceberg.
O que isso envolvia e mobilizava internamente é que era o grande problema. Para começar, a moça do livro, que não é nem boba, não facilitava a contagem dos itens que deviam ir embora. Para ela, por exemplo, dezenas de livros contam como uma única coisa. Batons velhos, corretivos nunca usados e rímeis duros também são computados numa única categoria: maquiagem. E assim por diante: vários CDs só valem um, talheres, um, pratos, um, assim como lençóis, vasos, almofadas e, principalmente, sapatos. Tudo um.
Quando constatei o artifício maroto, comecei a suspeitar que essa história ia ser um pouquinho mais complicada do que eu pensava. linguagem das coisas O que não tinha percebido ainda é que descartar parte de sua vida revela tantas coisas com relação a si mesmo quanto várias sessões de terapia. Aquilo que você guarda e o que joga fora, assim como o que compra ou deixa de comprar, é um espelho que refl ete fora o que você pensa e sente por dentro. Deyan Sudjic, diretor do Museu de Design de Londres, teve esse mesmo insight ao escrever A Linguagem das Coisas, uma análise irônica sobre as verdadeiras razões pelas quais consumimos.
Ele revela quais os impulsos inconscientes que determinam o ato de comprar e como a indústria nos captura por meio do design e da publicidade. Escreve: ”Entender como um laptop consegue que eu o deseje tanto a ponto de pagar para levá-lo para casa é também entender algo sobre mim mesmo”. A mesma conclusão vale para quem quer jogar algo fora: entender por que desejo manter uma coisa é também conhecer algo sobre mim de que talvez não estivesse consciente antes.
É um exercício de autoconhecimento magnífico, que deveria ser praticado pelo menos a cada seis meses. Nossos sinais Sudjic diz que nunca tivemos tantas coisas dentro de casa como hoje. Embora os critérios de muitos de nós estejam cada vez mais orientados em direção a uma vida mais simples, ainda somos presas fáceis capturadas pelo consumo. E por que será que isso ainda acontece? “Os objetos são o que usamos para nos definir e para sinalizar aos outros quem somos”, afirma Sudjic com sua aguda percepção. “Sapatos, roupas, automóveis ou a decoração da casa são elementos que empregamos para exteriorizar nossa personalidade, tanto quanto os usamos para ajudar a construíla.
É uma via de duas mãos”, afirma a psicóloga Maria Cândida do Amaral. Os objetos são como uma espécie de linguagem que utilizamos para nos revelar e ao mesmo tempo para nos autodefinir. Mais: pode-se dizer que uma das principais metas do design contemporâneo é nos auxiliar a contar essa história pessoal, quer para si mesmo, quer para os outros. Os designers se especializaram em contar nossas histórias particulares por meio de... coisas. Por exemplo: ter na cozinha um liquidificador que reproduz um antigo modelo da década de 50 pode sinalizar que gostamos da irreverência, que temos senso de humor ou uma queda por aquilo que é surpreendente. “Quando compramos esses objetos, nós os utilizamos como palavras dessa nova linguagem.
É por meio dela que vamos expressar nossos valores e visão de mundo para os outros”, diz a psicóloga. Sei. Será que é por isso que estou custando tanto a me desapegar da minha fruteira de cristal de Murano? Será que ela funcionaria como um anzol ligado à construção da minha identidade e ao carimbo cultura/ modernidade/sofisticação que apreciei tanto durante uma parte da minha existência? Um enigma. Apesar de minha vida ter mudado radicalmente de lá para cá, e de que hoje ela seja bem despojada e simples, minha fruteira de cristal vermelho continua me magnetizando como uma naja. Por que será que ela ainda me mobiliza tanto? De frente para o inimigo Estou no meio de três montanhas de objetos. Gail, que na foto da orelha do livro tem o blazer e o corte de cabelo da Hillary Clinton, me aconselha a manter três sacos pretos com as etiquetas: vender, guardar e doar.
Como detesto colocar etiquetas em qualquer coisa, inclusive metaforicamente falando, prefiro ficar com as três pequenas montanhas, cujas bases insistem em se misturar de vez em quando. Já separei alguns quadros para guardar, vender e doar. As pinturas em seda com os cumes nevados de Guanxi, na China, vão para um grande amigo, porque a palavra guanxi significa “relacionamento” e “confiança” em chinês, as bases de nossa amizade. Os gandarvas, seres celestiais da mitologia indiana, foram destinados a uma amiga que me deu a maior força e que foi um anjo como eles quando precisei. Assim, sem querer, vou construindo uma história emocional das pessoas queridas que passaram pela minha vida. É gostoso escolher presentes com sentido para quem se ama: é um lado positivo do descarte.
Um a zero para ele. Creio que agora consegui ajuntar forças para encarar de forma mais neutra os objetos de maior valor. E aí descubro por que tenho medo de vendê-los ou doá-los. Sabia que esse momento chegaria: Gail já tinha avisado que, ao jogar coisas fora, em algum momento entraríamos em contato com um inimigo oculto: nossas crenças. E ali estava uma delas: não podia me desfazer objetos de valor porque jamais teria condições financeiras de comprá-los de novo. Precisaria viajar muito, e nem sei se haveria coisas semelhantes hoje nos lugares onde as comprei. Não estou nem questionando se essas coisas têm a ver com meu estilo de vida atual ou se continuo achando-as bonitas e por isso quero mantê-las.
O problema aqui é a crença subjacente a elas: não posso descartá-las porque nunca mais poderei comprar algo parecido. Uma crença que também pode segurar inúmeros outros objetos caros ou raros que não servem mais. O problema com as crenças é que elas se ancoram em meias verdades. Sim, eu realmente não poderia comprá-las de novo agora. Mas será que isso era definitivo? Será que se tivesse dinheiro em mãos compraria exatamente as mesmas coisas? É óbvio que não. Por que estaria então com tanto medo? Ainda posso ganhar um bom dinheirinho na vida, viajar por outros lugares com menos fome de consumo, e deles trazer outras lembranças que não as materiais. Também não preciso mais das coisas para construir minha identidade, o que talvez fosse verdade quando era mais jovem.
Então posso perfeitamente abdicar delas. Mesmo assim, ainda queria saber exatamente o que me prendia à minha emblemática fruteira. No fundo ainda não sabia. O que poderia ser? Nosso homem neolítico Como você já deve saber, existe um homem das cavernas dentro de nós. Se no Neolítico ele colecionava clavas, seu leque de opções hoje em dia se ampliou consideravelmente: é só a gente dar um pulo num shopping para se certificar disso. Mas segundo o inglês John Naish, autor de Chega de Desperdício!, nossos ancestrais tinham muitas mais clavas, flechas, facas ou enfeites do que necessitavam. Ficavam horas a esculpi-los, entalhá-los ou limálos, e os fabricavam com características diferentes. E por quê? Ora, pelas mesmas razões de hoje: por prazer. E também para impressionar os outros e ganhar prestígio social dentro da tribo. No Neolítico, ser rejeitado pelo grupo significava morrer.
A rejeição se traduzia em exclusão e naquele tempo uma pessoa não tinha muitas chances de sobreviver se fosse deixada sozinha numa floresta onde circulavam tigres-dentes-de-sabre. Por isso, haja clavas, flechas e tacapes, que evoluíram para jipões, roupas, casas decoradas, piscinas ou qualquer outra coisa com a qual podemos nos pavonear. E não pense que você está imune a isso. Mesmo para aqueles que optaram por uma vida mais simples, o desejo de impressionar pode continuar latente por debaixo do pano. Será mesmo que era o medo da rejeição social que andava me segurando? Laços de energia Enquanto avalio roupas de cama e mesa, lembro os ensinamentos de Carlos Castañeda, um antropólogo que viveu com um feiticeiro mexicano, dom Juan Mattos, e que baseou sua tese de doutorado no intenso aprendizado que teve com ele. Segundo dom Juan, somos rodeados por um corpo oval de energia luminosa, invisível ao olhar ordinário. Durante nossa vida, essa energia pode formar filamentos que se prendem a objetos, situações e pessoas a que nos sentimos muito apegados.
De acordo com o líder indígena, eles nos aprisionam ao passado, impedem nossa liberdade e enfraquecem nossa energia vital. “Para recolher esses filamentos, um aprendiz devia se retirar do mundo por alguns meses e procurar reviver detalhadamente todas as situações passadas a que estava apegado. Hoje a recapitulação, como é chamado esse processo, é feita em menos tempo, mas é igualmente eficaz”, diz a psicóloga Patrícia Aguirre, discípula brasileira de Castañeda. “Esse processo é feito com auxílio de uma respiração determinada. Visualizamos a situação e nos desligamos dela”, afirma. Olho de novo para os lençóis que usava com meu último namorado. Eram lindos, macios, e ainda estavam por ali disponíveis.
Tento imaginar a enorme quantidade de filamentos que me ligavam a eles, se essa história de grudes luminosos for realmente verdade. E resolvo mais tarde fazer um exercício à dom Juan: em meditação e de olhos fechados, me imagino retirando os fios luminosos que me prendem aos lençóis. Inspiro e retiro os fios, expiro e encho meu brilhante ovo luminoso de mais luz.
Quando doá-los, presumo que eles não tenham mais minha energia. Talvez fosse melhor fazer a respiração que é ensinada com detalhes nos grupos de Castañeda, mas acredito que mesmo assim deu certo. Outro mestre me vem à cabeça: Gurdjieff. Ele fala que somos movidos pelas associações que damos às pessoas, situações e coisas. Colocamos etiquetas emocionais nelas e na verdade é a elas que somos ligados. Isto é, uma xícara não é só uma xícara, mas uma herança da tia Elza. Quanto mais identificação com essas associações, pior é. Segundo Gurdjieff, elas nos impedem de ver a realidade como ela é, onde as coisas são apenas coisas, sem valor intrínseco. Achei! Finalmente descobri por que fiquei enganchada na fruteira. Não queria jogá-la fora por causa de uma associação.
Sua forma triangular me fazia lembrar (por favor, não ria) da Santíssima Trindade. Achava muito forte ter esse símbolo sagrado presente em casa e de uma forma tão bonita. De acordo com Gurdjieff, desde que vista conscientemente, a associação não atrapalha mais. Quanto mais conseguirmos enxergar nossos condicionamentos e o nosso limitado modo de pensar e ver o mundo, mais essa visão mostra nossa dolorosa situação de inconsciência de nós mesmos ou, como ele dizia, o horror da situação.
E, para ele, a auto- observação é o que vale, pois ela é o ponto de partida da busca pela consciência. Não é preciso necessariamente mudar alguma coisa, só ver nossas limitações. Então a fruteira fica. Fim da experiência Bom, cheguei ao número 49 agora de manhã, depois de duas batalhadas semanas jogando coisas fora. Gail garante que o número 50 é uma espécie de centésimo macaco: depois de o ter atingido, tudo pode mudar definitivamente em nossas vidas. É verdade.
Pelo menos ficamos livres de um enorme peso que atravancava o caminho. É óbvio que deixei o meu querido chapéu verde por último. Agora posso jogá-lo fora. Não me sinto mais atrelada a ele ou à crença de que só ele pode me trazer novas viagens. Estou prontinha. O problema é que não consigo mais encontrá-lo no meio da bagunça de caixas, sacos para doação e lotes de venda. Talvez ele tenha se escondido num cantinho, como segreda minha parcela de pensamento mágico. Ou até, no meio da confusão, já o tenha descartado e nem me lembre mais disso.
Portanto, ficamos assim: se encontrá-lo, jogo fora. Ou dou de presente, embora depois de tantas lavagens ele caiba apenas na cabeça de uma criancinha. Mas uma coisa é certa: depois de todo esse processo de libertação e descarte, está claro para mim que ele não tem mais serventia.